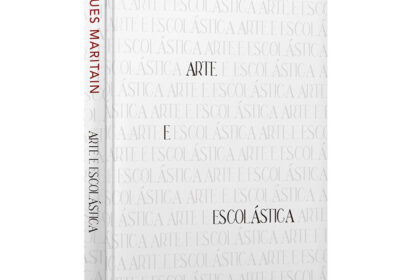Por Rafael Ruiz
Quando Shakespeare escreve Hamlet, por volta de 1601, a Inglaterra já sonha em tornar-se a nova potência imperial. Vinte anos antes, a “Invencível Armada” tinha sido derrotada; a Espanha não consegue resolver os problemas da revolta dos Países Baixos; o poderoso Felipe II acaba de falecer e o seu sucessor não parece contar com a aura do velho rei… Contudo, Shakespeare não escreve uma obra para exaltar seu país nem para garantir-lhe uma posição de destaque no mundo. Shakespeare escreve querendo saber o que é o homem.
Hamlet tem um destino a cumprir: precisa cumprir a sua palavra e vingar a morte do pai. Mas Hamlet questiona-se, hesita antes de agir, mostra-se, umas vezes corajoso e decidido, e outras medroso e indeciso. Talvez seja essa ambiguidade o que torna Hamlet tão próximo do público. O autor não quis contar-nos a história de um herói épico; contou-nos a história de um homem, de carne e osso, que cumpriu a sua missão, porém à custa de idas e vindas, de decisões e indecisões, de pequenas covardias e pequenos triunfos, de dúvidas sobre se o que devia fazer era certo ou errado…
O velho Rei da Dinamarca acaba de morrer. Seu irmão, Cláudio, alegando uma possível invasão das forças norueguesas de Fortimbrás, casa-se com a viúva e assume o trono. Contudo, o espectro do rei aparece à noite exigindo vingança, pois fora assassinado pelo próprio irmão.
Desde o começo da peça, torna-se patente a tensão entre o casal régio – a mãe e o tio de Hamlet- e o próprio príncipe. Essa tensão evidencia-se num contexto em que o ser e o aparecer são questionados. Enquanto a mãe o anima a largar o luto porque está “parecendo” uma questão pessoal, Hamlet responde irado:
HAMLET – Parece! Não, senhora! Ignoro o que é “parece”… Eu tenho isto que sinto no interior, e excede o aspecto, e os trajes e os hábitos de dor (Ato I, Cena II).
Quando se retiram, Hamlet deixa ver às claras, a sós, o que pensa das atitudes dos reis:
HAMLET –… Ó Deus, meu Deus, que fatigantes, insípidas, monótonas e sem proveito as práticas do mundo, todas, me parecem! Que nojo o mundo, este jardim de ervas daninhas que crescem até dar semente…
Num mês, antes que o sal das suas insinceras lágrimas pudesse deixar vermelhos os seus olhos irritados, ela casou-se. Oh, pressa ignóbil… atirar-se com tal desembaraço nos lençóis do incesto tal não é bom, nem pode redundar em bem… (Ato I, Cena II).
As coisas que acontecem na Dinamarca não são como parecem. Daqui a pouco ficaremos sabendo que “há algo de podre no reino da Dinamarca”… Como se processa esse conhecimento?
O primeiro contato que temos com a realidade é através das suas “aparências”. Vemos o que nos aparece, aquilo que a realidade nos mostra. Esse conhecimento inicial, essa primeira tomada de contato com a existência das coisas e das pessoas provoca em nós um sentimento (assim, por exemplo, os amigos de Hamlet ficam apavorados ao ver o espectro e, depois, quando o conhecem mais profundamente, porque Hamlet lhes explica, passam a sentir respeito e admiração). O sentimento é a forma em que se vive e se interioriza qualquer fenômeno da vida – neste caso, o fenômeno de conhecer algo ou alguém.
A partir daí, passamos a ter uma pré-disposição para a ação: sentimos vontade de agir; temos medo de errar; questionamo-nos se vale a pena; mostramo-nos indiferentes… De certa forma, estamos nos envolvendo subjetivamente no ato de conhecer. O sentimento – a afetividade – é algo tão propriamente humano que Platão dizia ser “uma parte da alma”1 . É algo diferente da sensibilidade e da razão e nem sempre, nem necessariamente, em sintonia com elas. É como que a zona intermediária entre o sensível e o intelectual do homem2 que manifesta a extraordinária união entre o espiritual e o material no homem. Através da abstração, passamos à idéia, mas já estamos irremediavelmente envolvidos no processo intelectivo. Apesar das muitas teorias que exigem uma separação entre sujeito e objeto, não parece fácil que o homem consiga estabelecer uma relação tão asséptica com o seu próprio pensamento. Aliás, é quem está envolvido que tem mais condições de entender melhor, como também tem mais condições de conhecer pior, precisamente por estar envolvido. Mas se o conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto, é difícil entender que essa relação não afete os dois.
Quando Hamlet se encontra com Horácio e os outros guardas, estes relatam a aparição do espectro do Rei e como é que eles o viram e, no fim do diálogo, marcam um novo encontro à noite. Hamlet conclui:
HAMLET– … Não, as coisas não estão bem. Suspeito alguma vilania. Quisera que a noite já tivesse vindo. Mas até lá, minh’alma, permanece calma! Ainda que a terra inteira os haja de esconder, os atos vis terão no fim de aparecer (idem).
As cenas IV e V do Ato I deixam-nos conhecer, na versão do espectro do pai de Hamlet, o que aconteceu. Antes de Hamlet se encontrar com o pai, Marcelo, um dos guardas, comenta, como que para si mesmo, que “existe algo de podre no reino da Dinamarca”.
A alma do pai explica que fora envenenado pelo próprio irmão, Cláudio, e que se espalhou pelo reino o boato de que fora uma serpente que o picou enquanto estava adormecido no jardim. Surge, de novo, o problema da aparência. Hamlet fica sabendo, por boca do seu pai, que sua mãe era “na aparência casta”, mas que se entregara ao tio e assassino.
Antes de se despedirem, o pai pede a Hamlet que seja vingado:
FANTASMA– Se tens em ti amor filial, não toleres isso, nem permitas que o tálamo real da Dinamarca seja o leito da luxúria e do execrando incesto… Mas como quer que realizes tal ação, não manches teu espírito, nem urda a tua alma coisa nenhuma contra a tua mãe: entrega-a ao céu, como aos espinhos que ela traz no peito para pungi-la e aguilhoá-la…
Está colocado o drama humano. Qual é a verdade de tudo isso? As coisas são como aparecem ou há dentro delas uma outra realidade que pode ser diferente? A Rainha é casta ou não? O atual Rei é um assassino ou não? Que fazer? O que é certo fazer? O que Hamlet deveria fazer? Encontrar a resposta a essas questões, mais ainda encontrar-se perante esse tipo de situações na vida, leva o homem, como a Hamlet, a deixar escapar um grito surdo de desespero: “Oh, horror. Oh, horror. Quanto horror! ”3
Nesse momento, o próprio Hamlet decide passar a viver também de “aparências”, fazendo-se passar por louco. E exige da guarda que jurem que nunca, a ninguém, falarão do que acontecera naquela noite, nem darão explicações sobre a razão por que Hamlet, a partir daquele momento, passou a ter atitudes algo esquisitas. O último verso é decisivo:
HAMLET– … os tempos estão fora dos eixos! Oh tarefa de irritar, que tenha eu nascido para pô-los no seu lugar!
Hamlet percebe o seu destino. Um destino similar ao do Quixote. Também ele estava no mundo para desfazer os entuertos. E cabe perguntar se não será essa a condição humana: o mundo não é justo – “os tempos estão” (e sempre estiveram e provavelmente sempre estarão) “fora dos eixos”. E num mundo assim, qual é o papel do homem?
Não deixa de ser instigante a comparação entre essas duas grandes personagens da Literatura, arquétipos de uma visão imperial de mundo: o fidalgo da Mancha está convencido de existir apenas para endireitar o mundo e as suas injustiças, ao passo que o Príncipe da Dinamarca se lamenta de ser ele quem deva consertar o mundo… Ambos cumprirão a sua missão: Hamlet far-se-á passar por louco para realizá-la, enquanto D. Quixote “perdeu o juízo” de tanto ler livros de cavalaria e, por isso, queria realizá-la…
Tanto Cervantes como Shakespeare partem de um ponto comum: o mundo está fora dos eixos; os homens agem da maneira que não deveriam agir. Atingimos aqui o “núcleo duro” da filosofia. Filósofos, romancistas, teólogos, políticos, sociólogos, psicólogos… qualquer pensador, desde os tempos mais remotos, têm se enfrentado com essa questão crucial: por que as coisas estão fora dos eixos e, mais, por que o homem está fora do seu eixo?
José Antonio Marina4 chama a atenção para o fato de que a história da filosofia mostra como houve duas grandes correntes tentando responder a essa questão.
Por um lado, a filosofia que afirma que o homem procura a perfeição, uma perfeição que se manifesta nas pequenas e intranscendentes escolhas da vida quotidiana, em que se podem fazer as coisas melhor ou pior. E que assim como reconhecemos um bom jogador de basquete pela sua habilidade, pela sua criatividade nas jogadas e pelas cestas que realiza; ou chamamos de “bom cavalo de corrida” aquele que tem uma disposição e velocidade e docilidade para isso, “não poderia acontecer que a vida do homem tivesse sua correspondente perfeição? não existirá um modo bom de ser homem? ”5
Por outro lado, a filosofia que afirma o desejo de felicidade humana como uma das forças maiores que impulsionam o homem e todas as sociedades. É como que um “projeto imprescindível”6 da humanidade. O problema – se é que se deve chamar de problema a algo que faz parte da própria condição humana – é aquele apontado por Sócrates logo no começo do pensamento filosófico: todos os homens querem ser felizes, mas “o difícil é saber o que é que torna a vida feliz”7.
Quando, na Cena III do Ato I, Polônio se despede do seu filho Laertes, que parte para a França, dá-lhe uma série de conselhos sobre como “manter as aparências”, porém no último verso surpreende:
POLÔNIO – Mas, sobretudo, sê leal contigo mesmo: e seguir-se-á, tal como a noite segue o dia, que então não poderás ser falso com os outros…
É como se houvesse dentro de nós um ponto de referência que nos permite saber se estamos sendo humanos. É o que Píndaro e tantos outros clássicos queriam dizer quando afirmavam, referindo-se ao homem: “Sê tu mesmo. Torna-te o que és”.
O homem não é apenas o que “ele é”, mas, sobretudo, o que “ele pode vir a ser”. Há uma forma de “ser humano” – que os filósofos chamam em geral de “natureza” – mas que não se resolve – no caso do homem – apenas em “ser”, mas, principalmente, em “poder ser”. O homem não nasce pronto, nem cresce pronto, nem amadurece pronto. Ás vezes, fala-se do homem como se fosse uma coisa pronta, acabada, feita. O homem não “é” um ser realizado, mas uma “pretensão”, “um projeto”, uma “possibilidade” de “vir-a-ser”. Tudo isto não são palavras vazias, muito pelo contrário. Pretensão, projeto, possibilidade são o espaço de atuação da liberdade humana: o homem pode, e deve – se quiser ser homem plenamente- realizar-se livremente enquanto homem.
No Ato II da tragédia, vemos como quase todos os que rodeiam Hamlet estão preocupados com a sua tristeza patente. Alguns, como Ofélia e Polônio, pensam que é devido à frieza que Ofélia vem manifestando para com ele; outros, o rei e a rainha, acham que é por causa da morte do pai e do casamento apressado entre ambos… Cada um olha de acordo com o seu olhar.
Polônio explica seu ponto de vista ao rei e propõe deixar Hamlet e Ofélia a sós para tirar a limpo se esse é ou não o verdadeiro motivo dos seus distúrbios. Hamlet, porém, por coincidência, escuta o plano tramado entre os dois e se aproxima deles, tendo entre as mãos um livro.
POLÔNIO – Como vai o meu bom príncipe?
HAMLET – Bem. Deus vos pague.
POLÔNIO – Senhor, sabeis quem sou?
HAMLET – Perfeitamente, sois um proxeneta.
POLÔNIO – Eu não, senhor.
HAMLET – Pois quisera que fôsseis homem tão virtuoso.
POLÔNIO – Virtuoso, meu senhor?
HAMLET – Sim; ser virtuoso, do jeito que o mundo vai, é ser um homem entre dez mil (… )
POLÔNIO – (… ) O que estais lendo, meu senhor?
HAMLET – Palavras, palavras, palavras. (Ato II, cena II)
Logo a seguir, enquanto Polônio sai, chegam Guildestern e Rosencrantz, que terão um papel importante no desenrolar da tragédia. O diálogo entre os três, dentro do contexto da conversa anterior com Polônio, é extremamente elucidativo:
HAMLET – Quais são as novidades?
ROSENCRANTZ – Nenhuma, senhor, a não ser que o mundo se tornou virtuoso.
HAMLET – Então, o Juízo Final está próximo. Mas não é certa a notícia que me dais. Deixai-me perguntar-vos mais particularmente: que merecestes às mãos da Fortuna, meus bons amigos, para que ela vos mande a esta prisão aqui?
GUILDENSTERN – Prisão, senhor?
HAMLET – A Dinamarca é uma prisão
ROSENCRANTZ – Então o mundo também é.
HAMLET – Uma vasta prisão em que há muitas clausuras, celas e calabouços, dos quais um dos piores é a Dinamarca.
ROSENCRANTZ – Não achamos, senhor.
HAMLET – Ora, para vós então não é; pois nada é bom ou mau, a não ser por força do pensamento: para mim é um cárcere.
ROSENCRANTZ – Ora, vossa ambição é que lhe dá esse caráter: é muito apertada para a vossa mente.
HAMLET – Oh Deus! Eu poderia estar recluso numa casca de noz, e julgar-me rei de ilimitado espaço, não fossem os meus sonhos maus.
GUILDENSTERN – Sonhos que, efetivamente, não passam de ambição: pois a própria substância do ambicioso não é mais do que a sombra de um sonho.
HAMLET – Um sonho é em si mesmo apenas uma sombra.
ROSENCRANTZ – Realmente, e considero a ambição de qualidade tão aérea e leve, que não passa da sombra de uma sombra.
HAMLET – Então os nossos mendigos são corpos, e os nossos monarcas e alongados heróis as sombras dos mendigos…
Há aqui uma questão fundamental para entender o processo ético. Tudo o que existe se nos apresenta sempre sob um duplo caráter: por um lado, a sua própria existência ou, como dizia Heiddeger, o seu “ser-aí”: uma pedra que está no meio do caminho. Mas, por outro, tudo o que existe tem um valor. A pedra pode ser apenas uma pedra ou ser uma pedra preciosa. Uma ação pode ser justa ou injusta; pode beneficiar ou prejudicar. Um carro pode ser bom para a cidade e péssimo para a estrada… Ou seja, toda a realidade existente provoca no homem um juízo de valor, de aceitação, rejeição ou indiferença.
O valor, portanto, tem uma existência nas coisas e em nós. Se o carro não estiver bem balanceado ou eu o usar na estrada… ; se o micro não tiver os programas adequados… não adianta achar que valem e que pode dar certo… O decisivo na questão do valor não é a disjuntiva ou as coisas valem ou somos nós que lhes damos valor, pois essa não é uma disjuntiva, mas uma somatória: valem e lhes damos valor. O decisivo é saber dar o valor certo a cada coisa. Depende de cada um, de cada sociedade aceitar ou não o valor em questão, introduzi-lo ou não, na escala de valores, no lugar certo8.
Hamlet estabelece um critério de valor: o que as coisas são para mim. Para Hamlet, a Dinamarca é uma prisão; para os recém-chegados, não. Hamlet não está disposto a discutir sobre o assunto – como não esteve disposto a conversar com Polônio quando respondeu que tudo o que lia não passava de “palavras, palavras, palavras” – e responde que o bem e o mal dependem da nossa forma de pensar.
Quando Aristóteles fala sobre a sua teoria do conhecimento, faz uma advertência similar, dizendo que tudo o que se recebe, recebe-se de acordo com a forma do recipiente, ou seja, nosso pensamento, ou melhor, nossa estrutura cognoscitiva (razão, sensibilidade, sentimentos, vontade) é de tal forma que modela a realidade conhecida. Podemos não saber ou ficar em dúvida sobre se a realidade é boa ou má, mas sabemos, com certeza (ou quase sempre com certeza) o quanto vale para nós.
Vemos as coisas de acordo com a nossa forma de estar-no-mundo. Isto não significa que as coisas sejam assim, mas que é assim que se nos aparecem. É por isso que Julián Marías9 insiste nos seus escritos na necessidade de conhecer qual é a “instalação básica” da pessoa na realidade. Sabendo de onde parte o autor; entendendo quais são seus pressupostos; tomando consciência de qual é a antropologia que segue, pode-se captar com maior facilidade por que vê as coisas de determinada maneira. Outra questão será saber se as coisas são assim mesmo. Não esqueçamos que a dúvida hamletiana, que ressoa no inconsciente de tantos e tantos que nunca leram Shakespeare é: “Ser ou não ser. Eis a questão”.
Antes de se despedirem, Hamlet exige dos amigos uma resposta: vieram ao castelo por vontade própria, para encontrar-se com ele, como afirmavam, ou vieram porque foram chamados pelo rei? De novo, a questão da verdade e da aparência. Acaba de dizer que, na sua opinião (não esqueçamos que Hamlet se faz passar por louco), o bem e o mal dependem da cabeça de cada um e, de repente, exige saber uma resposta certa:
HAMLET – Não fostes chamados? Viestes de moto próprio? É uma visita voluntária? Vamos, vamos, sede leais comigo…
GUILDENSTERN – O que quereis que digamos, senhor?
HAMLET – Ora, qualquer coisa, contanto que não tergiverseis. Fostes chamados, sim: há uma espécie de confissão em vossos olhos, que vosso pudor não tem habilidade bastante para disfarçar. Sei que o bom rei e a boa rainha vos mandaram chamar.
Quer que se comportem com ele com toda a lealdade e entende por lealdade que a resposta seja verdadeira… Não nos basta saber o que as coisas são ou significam para nós. Isso é apenas uma parte do problema da existência humana. Necessitamos, queremos saber o que as coisas são em si mesmas. Vivemos com freqüência angustiados, à procura da resposta da outra parte do problema da existência: afinal, aquilo era mesmo do jeito que nós pensamos? Hamlet vai abrir seu coração para os recém-chegados, depois que estes disseram a verdade:
HAMLET – … Que obra de arte é o homem! que nobre na razão, que infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos, que determinado e admirável! quão parecido a um anjo nas ações, quão parecido a um deus na inteligência – a beleza do mundo, o modelo dos animais! E, mesmo assim, o que é esta quintessência de pó, para mim? O homem não me encanta, não, nem a mulher, embora com o vosso sorriso pareçais dizer que sim.
Descortina-se aqui o dilema de Hamlet. O “mundo que está fora dos eixos” volta a surgir com uma outra formulação. Existe toda uma realidade que está aí e, contudo, pode não significar nada para mim. Se for assim, que sentido tem a minha existência? Ou, então, por que devo ser eu a consertar o eixo do mundo se, para mim, ele está bem como está? Acontece que Hamlet sabe que há algo de podre no reino da Dinamarca; que os tempos estão fora dos eixos; que a Dinamarca é uma prisão e que ele nasceu para consertar tudo isso. E que tudo isso não é apenas assim para ele, mas é a verdadeira realidade.
No fim do Ato II, chegam os atores ao palácio de Elsenor. Hamlet lembra-se do poder que a encenação tem de atingir os sentimentos dos espectadores e arranja tudo para que seja encenada uma peça em tudo parecida com o possível assassinato do seu pai. As reações do tio e da sua mãe deixarão ver a verdade; manifestarão o que eles são verdadeiramente.
HAMLET –… Segundo ouvi dizer, quando uns culpados assistiam a uma peça, tocou-lhes tanto a alma a perfeição da cena, que proclamaram súbito os seus hábitos maus: pois o assassínio, embora não possua língua, externa-se com outra e milagrosa voz: levarão os atores, diante do meu tio, algo de semelhante à morte do meu pai: vigiar-lhe-ei o olhar, sondá-lo-ei ao vivo: se se encolher … eu sei o rumo que seguir (…) Preciso de razões mais concludentes do que essa10. A consciência do rei se trairá com a peça.
Por que Hamlet acredita que há algo no interior do rei que não corresponde ao que os seus gestos e aparências manifestam? O que vemos da realidade das coisas nem sempre é o que as coisas, realmente, são. Mais ainda, quando se trata de seres humanos e de pensamentos, intenções e vontades. O que vemos muitas vezes é o eixo torto das injustiças, corrupções, vilanias… O problema que se coloca é que a afirmação de que essas atitudes correspondem a um “eixo torto do mundo” leva o homem a aceitar que existe um eixo de referência. Se for assim, de que eixo de referência se trata?
Quando a filosofia grega se debruçara sobre o problema do homem, realizou três descobertas extremamente importantes11. Em primeiro lugar, passará a falar de “físis”: “natureza”, entendendo por isso não apenas “a forma de ser das coisas” mas também, “a forma do ser humano”. Em segundo lugar, descobrirá que existe um “télos”: uma ordem no “cosmos”, e que essa ordem dá um sentido, uma finalidade a todas as coisas12. E em terceiro lugar, descobrirá o “nómos”, ou seja, “a estrutura interior” para que cada coisa cumpra o seu fim, o seu “télos”. Por isso, se eu quiser uma sombra, posso procurar uma árvore no meio da tarde; mas se essa árvore for uma mangueira, de pouco adiantará procurar maçãs. Se eu precisar carregar vários quilos, posso usar um cavalo ou um burro, mas de pouco adiantará uma melancia… Essa estrutura interna não é algo que venha de fora, não é uma norma nem um código impostos coercitivamente pelo Estado, ou, como diria Kant, não é uma “heteronomia”.
Pelo contrário, trata-se de algo que está incorporado na própria “natureza” das coisas. Ou seja, as coisas são de determinada forma, e essa forma é responsável por que as coisas se comportem de uma maneira ou de outra, sirvam para isto ou para aquilo, façam assim ou assado. E isso não é mais do que desenvolver a sua estrutura, que é precisamente cumprir ou realizar o “fim” ou a “finalidade” de cada coisa13.
Porém, os gregos foram ainda um pouco mais longe, percebendo que essa “estrutura interna” funciona de modo diferente no caso dos homens. As coisas comportam-se, sempre, de acordo com o seu “manual de instruções” instalado na sua estrutura interna. É por isso que Aristóteles comentava que uma pedra poderia ser lançada infinitas vezes ao ar sem por isso deixar de voltar ao chão. A sua natureza funciona de acordo com essas instruções.
A estrutura da ação humana – as “instruções de uso” para a ação humana – tem uma nuance de extrema importância. O homem tem consciência de si, pode ler e auto-aplicar o seu “nómos” ou pode deixar de fazê-lo. A esta realidade, tão diferente da realidade das plantas, dos animais ou dos minerais, os gregos deram o nome de “éthos”, ou seja, que a conduta humana em direção ao seu próprio fim era uma conduta deliberada, consciente, autônoma e, portanto, ética14.
O comportamento humano, se for realmente humano15, procede do próprio interior do homem, da sua própria deliberação interna. Ser assim é ser ético. A ética faz-se presente no próprio ato humano: o homem quando age, age de acordo com a sua forma de ser, se quiser; e se não quiser, agirá de outra forma. Essa possibilidade é assim porque é assim que o homem é. A essa possibilidade dá-se também o nome de liberdade. O homem é uma união de “ser” e “poder / dever ser” e na atualização dessa possibilidade é que se desenvolve a sua liberdade.
É por isso que Hamlet acredita que vai descobrir a verdade encoberta. Acredita que o rei, deliberadamente, está mantendo umas aparências, está mentindo e ocultando os seus verdadeiros propósitos. Acredita que o rei está “torto”, mas aposta em que, diante da peça teatral, quando a sua deliberação consciente de mentir não estiver acionada, acabará revelando o seu verdadeiro interior: o eixo da natureza humana exige que se seja verdadeiro, e esse eixo, em contraste com a mentira do rei, provocará um abalo. Esse é o drama ético da humanidade.
Durante a representação da peça pelos atores, Hamlet confirma as suas suspeitas: o rei e a rainha não suportam assistir ao envenenamento encenado e ambos se retiram perturbados. A rainha pede que Hamlet vá ao seu quarto. O príncipe lembra-se da promessa que fizera ao espectro do pai e dispõe-se a usar palavras como punhais, sem usar nenhum. Entretanto, o Rei determina que Guildenstern e Rosencrantz se preparem para ir com Hamlet até a Inglaterra (o plano do Rei é que Hamlet seja assassinado na viagem).
Hamlet vai ao encontro da mãe e, pensando que o rei está escondido atrás de uma tapeçaria, mata o pai de Ofélia. Quando fica a sós com a mãe, avisa-lhe que quertorcer o seu coração. Vai torcê-lo porque está torto, fora do eixo. E esse ato é que conseguirá salvar a mãe, torná-la de novo humana, ao defrontar-se consigo mesma, com aquela que deveria e poderia ser. A certa altura, a Rainha ao filho pede para parar com essa loucura. Hamlet responde:
HAMLET – … Não foi loucura o que exprimi: ponde-me à prova. E eu tudo redirei, palavra por palavra… Mãe, pelo amor de Deus, não friccioneis vossa alma com essa ilusória unção de crer que é minha insânia que fala, em vez de vossa falta… Perdoai à minha retidão estas palavras: tal como estão estes nossos tempos16, a retidão tem de pedir perdão ao vício, curvar-se e pedir a vênia de fazer-lhe o bem.
RAINHA – Oh, Hamlet, partiste em dois meu coração.
HAMLET – Oh, ponde fora a parte pior: vivei mais pura com a outra metade. Boa noite. E não torneis ao leito do meu tio: assumi a virtude, se não a tendes. O hábito, esse monstro que nos devora a percepção dos maus costumes, contudo é também um anjo que nos dá a roupa que cômoda se ajusta à prática dos atos bons e imaculados. Refreai-vos esta noite, que isso vos dará certa facilidade para a próxima abstinência. E ainda mais à outra.
Shakespeare vê na conduta não apenas ação, mas também conhecimento. A prática de um ato e a sua repetição cria um hábito e é a partir desse hábito que podemos passar a ter uma maior facilidade para perceber a qualidade das nossas próprias ações. De novo a questão da “instalação básica”: vemos a partir de como vivemos.
Pode-se chegar a uma situação de perplexidade ou indiferença, como a que nos conta, da sua infância, o próprio Sartre17: “Minha vida, meu caráter e meu nome estava nas mãos dos adultos. Tinha aprendido a ver-me com seus olhos (…) Nunca estava a salvo dos olhares alheios, o que me obrigava a compor o gesto continuamente, para antecipar-me aos seus desejos (…) Quando estava a sós, não sabia o que devia sentir, nem quais eram minhas preferências. A tal ponto me tinha identificado com o desejo de agradar aos outros, que não conseguia saber do que é que eu gostava… ”
No caso mais extremo, pode-se chegar à normalidade da crueldade, como retrata o filme A Lista de Schindler, ou como podemos deduzir dos documentos do processo de Nuremberg, nos quais lemos que no campo de concentração de Janovski, o comandante Willhaus, “por simples esporte e para divertir à sua mulher e à sua filha, costumava atirar periodicamente da sacada do seu escritório com um fuzil automático sobre os presos que trabalhavam na fábrica (…) Em algumas ocasiões, e para divertir a sua filha de nove anos, Willhaus mandava jogar pelos ares crianças de dois a quatro anos, enquanto atirava sobre eles. Sua filha aplaudia e gritava: Outra vez, papai! E ele fazia-o de novo”18.
De qualquer forma, como afirmavam os estóicos, o que acontece é que aprendemos a estabelecer nossos critérios e nossos juízos a partir das nossas vivências e é por isso que, de certa forma se pode dizer que “o que nos faz sofrer não são as coisas, mas as idéias que fazemos sobre as coisas”19. Acontece que as idéias que temos das coisas foram originadas pela nossa própria maneira de viver, pelos nossos hábitos… Pensamos a partir de como agimos, e agimos de acordo com o que somos. É por isso, como diz a canção, “que Narciso acha feio o que não é espelho”… Daí que a questão, pronunciada por Hamlet, na Cena I do Ato III, ao encontrar-se com Ofélia e antes de conversar com a sua mãe, continue sendo: ser ou não ser?
HAMLET – Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre sofrer em nosso espírito pedras e setas com que a Fortuna enfurecida nos alveja, ou tomar em armas contra um mar de provações e, lutando, dar-lhes um fim? Morrer… dormir, nunca mais20.
Atacar ou resistir. São as duas atitudes clássicas da mesma virtude – a coragem – do herói grego: Aquiles ou Ájax atacam e, por isso, são heróis. Ulisses, resiste, e também é herói. Em definitiva, trata-se de ser ou não ser. O como agir vem depois. Não é apenas uma questão de classicismo grego. É uma posição antropológica perante a existência. Enquanto Niestzche, por exemplo, nos fala no super-homem, Robert Musil escreve “O homem sem qualidades”; enquanto podemos encontrar personagens como Mío Cid, Roland ou Diadorim, também encontramos Macunaíma ou Ricardo III.
Há um “modo de ser humano” que – talvez não haja outra palavra para expressá-lo, embora o termo esteja muito gasto – é universal. Universal não no sentido de absoluto e, sim, no sentido de “comum” a todos os homens. Um modo de ser que define a “natureza”, a “forma de ser” e que permite que possa ser entendido e compartilhado por todos os homens: coragem, enfrentar as dificuldades, atacando-as ou resistindo-lhes, honestidade, sinceridade, bondade, justiça… A tudo isso Aristóteles dava o nome de racionalidade. O fato de o homem ser como é, o fato de distinguir-se pela sua racionalidade permite que, quando o homem pensa sobre “o que é ser humano”, possa chegar a perceber o valor positivo dessas atitudes. Por quê? Porque são comuns a todos os seres humanos. É isto que se quer significar com o conceito de natureza humana. É daqui que decorre a dignidade humana, e o caráter de “ser comum” permite-nos pensar que é possível chegarmos a compartilhar esses conceitos e entender-nos com todos os homens.
Logicamente, o homem “vive-em” e está imerso numa determinada cultura. Essa cultura tem os seus valores, as suas formas de ver antropologicamente a existência humana. Há – é um fato à vista de qualquer um – diferentes culturas, com diferentes códigos de conduta, com o que poderíamos chamar de diferentes morais. A história mostra-nos que o progresso da humanidade consiste na possibilidade de estabelecer um diálogo entre essas diferentes culturas, com suas diferentes morais, para tentar estabelecer uma ética universal que fale a todos os homens. Ética universal não no sentido de que todos passariam a viver da mesma forma – afinal de contas, o herói pode atacar ou resistir –, mas no sentido de um projeto constituinte universal, que pretende fundar um modelo de sujeito humano no qual todos os homens se reconheçam21 . As diferentes morais que organizaram e estruturaram as sociedades ao longo da história foram se aproximando, umas vezes mais, outras menos do “ser-humano”, e por isso a ética realiza um processo de apropriação desse mundo moral com soluções cada vez mais próximas do humano, cada vez mais dignas do humano. Esse é o sentido de uma mudança de valores ou de uma revolução cultural: embora haja culturas que durante séculos a fio tenham mantido e considerado a escravidão como algo perfeitamente integrado nos seus costumes, na sua moral, a escravidão não é digna do ser humano, não é ética, não pode ser incorporada pela ética; embora haja culturas machistas, que neguem a participação da mulher na vida pública, ou culturas antropofágicas ou nazistas ou promotoras da pedofilia…, embora tudo isso seja humano e crie uma forma de comportamento moral, não são éticas, muito pelo contrário.
O desenrolar da tragédia que comentamos é uma contínua sucessão de traições e mentiras. Laertes volta da França e fica sabendo da morte do pai e do suicídio da irmã. O rei, sabendo que Hamlet está voltando, acerta com Laertes que o desafie a um duelo e envenene a ponta da espada, enquanto ele, o rei, prepara umas taças de vinho também envenenadas, para garantir a morte de Hamlet. De uma forma ou de outra, todos vão morrendo: a Rainha, ao beber um pouco de vinho, Hamlet e Laertes ao se ferirem (no meio da disputa, as espadas foram trocadas); e o rei, às mãos de Hamlet, sendo atravessado pela espada e engolindo à força o resto da taça de vinho… Horácio, num gesto de amizade, quer beber também e morrer junto ao amigo. Hamlet pede-lhe que não o faça:
HAMLET -… Tu viverás para explicar a minha causa. Narra a verdade sobre mim aos que não sabem… O resto é silêncio (Morre).
Qual é a verdade sobre o ser do homem? A história assistiu a uma infinidade de respostas que, através dos tempos, foram formando e enriquecendo as diferentes culturas. O Príncipe preferiu separar o “ser” do “dever-ser”, como Kant e muitos outros filósofos farão mais tarde; Hamlet separou o “ser” do “não ser”. Julián Marías, na sua Antropologia, defende a tese de que a verdade do homem é uma união de “ser” e “poder / dever ser”. Não se trata, portanto, de uma disjuntiva “ou, ou”, mas de uma coordenativa “não só, mas também”. O homem é seu projeto de ser humano; e esse projeto é o espaço da sua liberdade. A corrente da história é o contínuo esforço por manter o diálogo aberto para que o homem seja cada vez mais humano, para que possa vir a ser homem, aquilo a que está chamado a ser. Porque o homem não é algo acabado, mas alguém que está a caminho, porque não se é senão quando se é definitivamente. Esse é o espaço da história ou, como o poeta norte-americano Walt Whitman deixou escrito nos seus versos:
O poderoso jogo da vida continua,
e você pode contribuir com um verso.
Qual é o seu verso?
NOTAS
(1) PLATÃO, A República, 580 d.
(2) Cf. YEPES STORK, RICARDO, Fundamentos de antropología. Un ideal de la excelencia humana, Eunsa, Pamplona, 1997, pág. 56
(3) O original é: O horrible, O horrible, most horrible! Há divergências sobre se essa exclamação é feita pelo fantasma, no meio do seu relato, ou pelo próprio Hamlet. O verso, contudo, faz parte do imaginário popular.
(4) Cfr. Ética para náufragos, Anagrama, Barcelona, 1996.
(5) Idem, pág. 30.
(6) Idem, pág. 29
(7) Ibidem.
(8) Sobre toda esta questão, cf. Romano Guardini, Ética. Lecciones en la Universidad de Munique, BAC, Madrid, 1999.
(9) Dos muitos escritos de Marías, podem ver-se sobre esse tema: La felicidad humana, Persona, Tratado de lo mejor, editados por Alianza Editorial, Madrid.
(10) Hamlet está fazendo referência à possibilidade de que o espírito do seu pai não seja verdadeiro ou não esteja dizendo a verdade.
(11) De certa forma, toda a filosofia posterior será um discurso sobre os problemas levantados pela Filosofia grega com relação aos fundamentos antropológicos do ser humano.
(12) Daí que não seja um absurdo perguntar-se – e achar resposta – sobre umas das questões mais básicas da existência humana: para que serve isto? Que frutos ou benefícios posso obter daquilo?
(13) Na realidade, o nosso processo de conhecimento é ao contrário, tal como os gregos perceberam: primeiro, tomamos consciência de que existem coisas muito diferentes; depois, começamos a perceber por experimentação – a maior parte das vezes – para que servem essas coisas, como devem ser usadas, o que é que elas podem fazer ou podemos fazer com elas. Então, deduzimos – isto já não é um conhecimento experimental – que as coisas são de uma determinada forma e não de outra.
(14) Com relação a este tema, especificamente, pode-se ler Leonardo Polo, Quién es el hombre?, Rialp, Madrid, 1991. Também pode ser interessante Ricardo Yepes Stork, Fundamentos de antropología. Un ideal de la excelencia humana. Com relação aos conceitos gregos aqui exposto, vale a pena Werner Jaeger, Paidéia.
(15) A filosofia distingue entre “humano” e “do homem” para referir-se aos atos em que não há praticamente nenhuma esfera de deliberação (reações anímicas, necessidades biológicas…).
(16) O original, da mesma forma que a tradução desta edição (Hamlet, Abril, São Paulo, 1976), dá a idéia de excesso de gordura e de dificuldade de respirar por esse motivo (“na enxúndia com que arfam estes nossos tempos”). Pareceu-me mais fácil de entender o sentido da frase essa outra tradução.
(17) Citado por José Antonio Marina, El laberinto sentimental , pág. 68, Anagrama, Barcelona, 1996.
(18) Idem, pág. 136.
(19) Idem, pág. 84.
(20) O original fala em to take arms against e by opposing, com uma marcada conotação de luta.
(21) José Antonio Marina, Ética para náufragos, pág. 230.